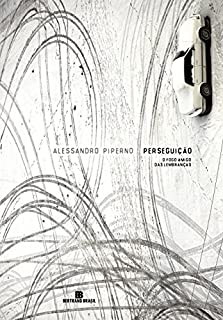Em que momento aquela senhora
se sentou do meu lado, eu não saberia dizer. Também não saberia precisar quanto
tempo fiquei desacordado. Estava com sono e os olhos cerraram-se com força incessável,
o tronco pendeu para o lado, a cabeça tombou e o livro caiu sobre o assento.
Nos últimos meses ando tão cansado, que sou tomado por um sono indescritível sempre
que estou na praça para fazer minhas leituras..., então quando despertei ela
estava bem ali, dividindo comigo o calor e o banco da praça.
Parecia não me notar, sentada
cuidadosamente no cantinho, contemplando as frivolidades da praça, em silêncio
total, pernas cruzadas, mãos apoiadas sobre o colo, observava tudo com
demasiada atenção, mas se algo lhe despertava algum interesse, não demonstrava;
nenhuma expressão ou movimento, parecia sequer respirar, como quem receia
acordar seu companheiro de assento.
Recompus-me, meio sem jeito.
Não é comum que alguém se sente do meu lado, as pessoas geralmente evitam proximidade
com gente esquisita que tem tempo para ler livros e usa o banco da praça para cochilar.
Ajeitei a gola da camisa, resgatei o livro aberto do assento, disse boa tarde,
mas ela não me respondeu.
Permanecia quieta, observando
a cidade.
Era uma mulher na casa dos
sessenta anos, magra, usava um vestido leve e comprido. Seu rosto era de uma
infinita serenidade, rugas desciam por seu pescoço imóvel. Parecia ser uma
pessoa gentil, apesar de não ter respondido ao meu cumprimento, talvez por
conta de problemas auditivos.
– Não precisa verificar o
queixo o tempo todo – disse ela, súbito, sem me olhar diretamente – você não
estava babando.
Era exatamente a neurose que
me domina, sempre que estou a tirar cochilos, sentado no banco da praça; o
receio de algo estar escorrendo da boca, talvez por repudiar pessoas que fazem
isso, temo estar a fazer aquilo que condeno.
– Desculpe – falei, sem saber
ao certo o que dizer – eu ando meio cansado. Há quanto tempo estou dormindo?
– Uns dez minutos, eu acho.
– Que coisa... Ainda bem que
livro não é objeto de interesse de ninguém. Do contrário, eu teria meus
livrinhos abreviados todos os dias.
– Na verdade, eu confesso que
até verifiquei o título – disse ela, finalmente se virando pra mim – Mas não me
interesso por processos.
O título do livro em questão
era O Processo, de Franz Kafka. Era uma leitura um pouco confusa, a trama da
obra é como estar dentro de um pesadelo estranho e imprevisível. Não era ruim,
mas não estava me agradando... E quando não gosto de uma leitura, parece que
meu sono se multiplica.
– Então a senhora veio até meu
banco para ver se o livro que deixei escapar lhe interessava?
– Não, eu só notei o livro
quando me sentei.
Olhei ao redor da praça e uma
coisa me deixou intrigado:
– Há outros bancos vazios, por
que a senhora veio se sentar aqui?
– Porque você não parece
cansado..., parece triste.
Não sei dizer se com todo
mundo é assim, mas dificilmente sou notado nos lugares em que estou. Pode ser
que esteja sendo injusto comigo mesmo, ou quem sabe minha insignificância seja
mais presente quando vou à praça ler, como apenas mais uma parte do cenário,
não sou visto por ninguém. De qualquer forma, sinto-me ajustado quando estou
lendo na praça, então pode ser que seja exatamente este encaixe que me torna invisível,
pois tudo o que é comum, passa despercebido por olhares alheios..., acho que se
trata de outra magia da leitura: a capacidade de escapar do momento presente.
– Estou vivendo o luto de uma
perda muito grande – respondi, ainda surpreso com aquela observação a meu
respeito.
– Quem ou o que você perdeu?
– Meu irmão mais novo – falei,
a voz vacilante – passou as últimas três semanas lutando contra um AVC, mas foi
derrotado na última sexta-feira.
– Vocês eram muito próximos? –
agora ela parecia realmente interessada, aquele olhar calmo e afável me fez
continuar.
– Eu diria que sim, tanto no
aspecto regional, pois morávamos muito perto, quanto no aspecto emocional...,
eu cuidei dele por muito tempo quando era bebê. Tínhamos nossas diferenças, as
vezes isso gerava discussões, mas sempre tive uma ligação muito forte com ele.
Ela desviou o olhar para o
chão. Havia alguns pombos nos rodeando, curiosos ou esperançosos por um gesto
costumeiro que algumas pessoas fazem quando estão sentados na praça. E foi justamente
o que a mulher fez, tirou não sei de onde uma sacolinha cheia de migalhas.
– O que você mais gostava no
seu irmão? – ela retirou um tanto do conteúdo do saquinho e atirou no chão
diante de nós.
– Acho que a coragem que ele
tinha – levei um susto com a enorme quantidade de pombos que surgia de todos as
direções, pousavam sob nossos pés para disputarem as migalhas – Ele focava no
que queria e seguia em frente, não deixava que nenhum revés da vida lhe
abalasse. Estava prosperando, realizando seus sonhos, parecia feliz..., então
veio o maldito AVC e acabou com tudo.
– Se ele era o caçula, devia
ser bem jovem, pois você não me parece muito velho.
– Ele tinha 34 anos..., eu
tenho 42.
– O universo é mesmo injusto,
não é mesmo? – disse ela, encarando a aglomeração de pombos – Tira-nos pessoas
que amamos muito cedo, sem nenhuma fundamentação do ato.
– Só o que existe é a
contingência, minha senhora.
– E por isso o ser humano tem
tanto medo – ela atirou mais algumas migalhas e se virou para mim – Mas e
quanto a Deus?
– Deus? A senhora acredita que
existe alguma entidade por aí manipulando a nossa existência, como se fôssemos
peões de um infinito jogo de tabuleiro?
– E se houver?
– Então esse Deus é
imensamente despótico e cruel.
– Cruel ou não, você não
acredita nisso.
– Talvez até exista alguma
força soberana por aí, mas ela não quer saber de nós. Somente passou por aqui e
foi embora..., acho que estamos sozinhos neste planeta. E acho que o ser humano
teme a solidão mais do que a morte.
Fizemos um breve silêncio. A
mulher não parecia nem um pouco contrariada com minhas respostas. Até porque eu
também não sabia o que ela pensava sobre esses assuntos metafísicos. Mas se ela
se sentiu desconfortável com minhas respostas, a culpa era dela. Não foi eu
quem começou a falar de Deus! Contudo, era prudente sustentarmos aquele
silêncio por algum tempo. Algumas ideias demoram a serem digeridas pela mente.
– Quando foi a última vez que
vocês se falaram? – foi ela quem retomou o papo.
– Você quer saber quando eu
falei com Deus pela última vez?
– Achei que você não falasse
com Deus.
– Converso comigo mesmo, como
todo mundo..., acho que se fosse religioso eu acreditaria que estivesse
conversando com Deus.
– Eu li em algum lugar que a
relação de um ateu com Deus é como a de dois amigos que brigaram e não se falam
mais; os dois ainda se amam, mas são orgulhosos demais para ceder.
– Eu não costumo me considerar
um ateu.
– E o que você é?
– Não sou nada..., não gosto
de rótulos.
– Tudo bem, mas quando eu fiz
a pergunta, estava na verdade me referindo ao seu irmão..., quando foi a última
vez que vocês dois se falaram?
– Acho que foi numa
sexta-feira, eu passei na lanchonete dele e conversamos um pouco – as migalhas
acabaram e, devagar, os pombos foram se dispersando. Ao longe, alguns
motoristas começaram a buzinar, estressados no trânsito – Como não era incomum,
tivemos outra discussão por conta de diferenças e eu usei um tom cheio de
ironia para depreciá-lo. No sábado, eu não sai de casa pra nada, passei o dia
estudando e no domingo cedo a mulher dele me ligou desesperada. Quando cheguei
na casa deles, encontrei-o caído no chão, estava consciente, mas sem movimentos
e não falava... aquela era a primeira de três imagens perturbadoras que vivenciaria
nos próximos dias.
A confusão no trânsito pareceu
se dissipar do mesmo modo que começou: espontaneamente.
– Quais foram as outras duas?
– ela quis saber.
– A segunda foi quando o vi no
hospital, duas semanas depois do AVC. Tinha sofrido algumas cirurgias, estava
debilitado, o crânio muito inchado, inexpressivo, ele quase não se movia,
apenas me acompanhava com o olhar. Não foi nada fácil ver um irmão que sempre vi
saudável e alegre, arruinado daquela forma. Quando toquei a única mão que ele
manifestava algum movimento, seu dedo polegar ficou a acariciar as costas da
minha mão, levemente..., um dedo! Era todo o afeto que sua condição permitia
demonstrar.
A lembrança daquele dia fez a
indignação emergir em meu ser. Achava tudo aquilo muito injusto, como pode uma
vida tão jovem e próspera ser abreviada daquele jeito cruel, sem ninguém com
quem pudéssemos atribuir alguma responsabilidade? O mesmo ódio incoercível que
senti ao ver meu irmão frágil numa cama de UTI estava de volta, ali na
praça..., mas afinal, ódio de que? Ódio de quem?
Como a impotência diante da
finitude é o elemento mais notório do ser humano, clamamos por vingança! Meu
irmão estava morto e a sensação era de impunidade..., Isso me fez pensar que Deus
fosse, de fato, uma entidade onipresente, pois assume até mesmo o lugar de réu,
porque sabe que precisamos dessa ínfima clemência.
– A terceira imagem aterradora
foi vê-lo no caixão, a pele arroxeada, gelada feito mármore. Não era apenas a
imagem da morte dele, mas a representação do fim da esperança. A confirmação de
que estamos mesmo sozinhos no mundo. Todas as orações e súplicas foram
sumariamente ignoradas... Sim, talvez exista um Deus todo poderoso por aí,
senhora. Mas ele está cagando pra nós aqui.
O calor ou a raiva começava a
fazer meus poros minar. Estávamos sentados naquele banco recebendo um sopro
cálido que parecia intencionado em nos expulsar dali. Pra piorar, eu tinha
agora uma coisa entalada na garganta, fruto das memórias recentes. Enquanto a
mulher do meu lado parecia impassível, o que me fez descartar a hipótese de que
ela fosse membro de alguma religião interessada em usar a minha dor como
justificativa para arrastar-me ao templo do Deus dela. A menos que fosse alguém
exclusivamente interessada em somar mais um dizimista e, portanto, estivesse
insensível ao meu sofrimento.
Porém, não parecia ser o caso,
a mulher demonstrava interesse apenas quando me fazia perguntas, e então
retornava ao modo contemplativo.
– E se você pudesse voltar no
tempo? – perguntou ela.
– Como é?
– Se você pudesse estar de
volta àquela sexta-feira, exatamente no instante em que chegou na lanchonete do
seu irmão?
– Eu..., eu não sei. – Fui
pego de surpresa por aquela pergunta, que estranhamente sova como uma proposta
– Nunca pensei sobre isso.
– Funciona assim: – ela se
virou e assumiu ares instrutivos – você vai devolver seu livro ao assento,
exatamente onde ele estava, depois recostar a cabeça de volta no encosto do
banco e fechar os olhos. Então você vai dormir novamente... Quando acordar, eu
não estarei aqui e será sexta-feira, 29 de setembro. Você vai terminar sua
leitura, voltar ao trabalho e no fim da tarde, irá até a lanchonete do seu
irmão. Ele estará lá, cuidando das coisas como num dia qualquer.
Ela fez uma pausa, enquanto eu
preenchia a mente com a visão dele me recebendo como sempre fazia, um abraço,
duas ou três perguntas banais sobre o meu dia, então ofereceria uma cerveja
gelada. Se aquilo fosse possível, poder desfrutar de sua presença uma vez mais,
então eu estava diante de uma oferta irrecusável. Mas antes que eu dissesse
qualquer coisa, a mulher ergueu o indicador em sinal de cautela:
– Só existe uma condição nisso
que estou oferecendo a você.
– Que condição?
– Nada do que você fizer
poderá mudar o que virá nos próximos dias – estava-me sendo colocado na consciência
o paradoxo da escolha – Você terá seu retorno ao passado como se fosse uma
chance de despedida da maneira que lhe parecer mais adequada. Contudo, terá que
reviver os dias seguintes, que serão estritamente iguais ao que aconteceu; seu
irmão sofrerá o acidente vascular cerebral, você será o primeiro a chegar para
prestar socorro, ele ficará semanas internado numa UTI, você fará aquela mesma
visita e receberá o limitado carinho que ele pôde fazer com o dedo..., então
chegará o nefasto dia da morte, o indigesto velório, o enterro lúgubre e o
inescapável luto...
Pareceu-me um preço muito alto
a se pagar.
Eu não sustento nenhum tipo de
remorso em relação à convivência que tive ao lado do meu querido irmão. Mas
reconheço que seria muito bom poder voltar a lanchonete e encontrá-lo, uma última
vez, ver aquele seu entusiasmo único e confiança inabalável, poder lhe dar um
beijo e dizer que o amo..., contudo, viriam os próximos dias, cujas
circunstâncias aterradoras causaram estrago incomensurável em minha alma.
Aquilo me fez pensar em contos
mitológicos em que os deuses do Olimpo concediam algum desejo ao ser humano,
que à priori soava como uma coisa boa, mas sempre havia algo nefasto escondido
por trás da realização do desejo. A lição que os gregos queriam passar com
esses contos era a de que os homens não sabem antever as consequências daquilo
que desejam. Pelo menos quanto a isso eu estava sendo poupado, pois a doce
senhora fez a gentileza de me contar o que havia nas entrelinhas de sua
proposta. E diante disso, eu só poderia lhe dar uma resposta, fosse aquilo uma
metáfora ou não, sei muito bem que não estava preparado para as consequências
de reviver o encontro com a morte.
– Eu agradeço por me oferecer
essa irresistível possibilidade – respondi, sem muita convicção e, por isso
mesmo, torcia para ela não ser persuasiva – mas eu vou recusar sua oferta.
– Não deseja rever seu irmão
uma vez mais?
– Desejo muito, senhora. Mas
não sei se aguento passar por aquilo tudo novamente.
Ela estava a me olhar daquele
jeito, direto, então precisei virar o rosto para evitar que ela me visse
enxugando uma lagrima que escapou e desceu pela minha face. Sempre tive
vergonha de chorar na presença das pessoas, embora era fato que nas últimas
semanas eu andava a chorar copiosamente e em qualquer lugar, como nunca havia
chorado antes. Mas naquele momento, ali no banco da praça, voltei a sentir
vergonha de chorar.
– A dor vai passar, acredite –
disse ela e se levantou – quando passar só restará a saudade. E desse ponto em
diante, as lembranças serão prazerosas.
A mulher se afastou em uma
direção qualquer, até desaparecer no meio da urbanização. Sozinho no banco da
praça, eu senti um estranho arrepio que me fez retirar o telefone do bolso pra
verificar a data. O que vi causou-me alívio, pois ainda estava no presente e eu
não precisaria passar novamente por aqueles dias sombrios do passado recente.
Sim, eu teria adorado rever
meu irmãozinho. Mas como aquela doce senhora garantiu, a dor já vai passar. E
quando isso acontecer poderei revê-lo nas minhas lembranças, poder sustentar o
melhor dele, sem que para isso eu tenha que vivenciar de novo os piores dias da
minha vida...
Li em algum lugar que
o mundo se torna mais difícil de se suportar, na medida em que morrem pessoas
que gostavam da gente... Agora eu sei que isso é a mais pura verdade.
***
Em memória de meu querido irmão
18/03/1989 - 20/10/2023